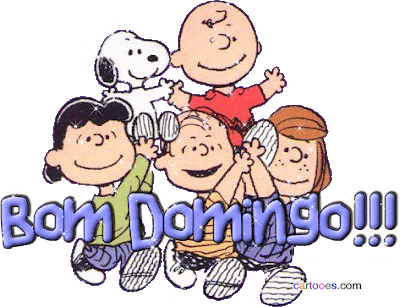Rolezinhos: “Eu não quero ir no seu shopping”
A ideia de que os rolezinhos são “protestos” e de que seus integrantes querem invadir os “shoppings dos ricos” é de quem não conhece a periferia. Os rolezeiros querem é se divertir, namorar e comprar roupas de marca. Tudo bem longe da “playboyzada”.
Retrato do "famosinho" Evandro Farias de Almeida, 20, na sala de sua casa em São Miguel Paulista. Evandro reúne fãs de sua página no facebook em "rolezinhos" nos shopping center da zona leste de São Paulo - Jefferson Coppola
Evandro Farias de Almeida é a Lala Rudge da periferia paulistana. Assim como a blogueira de moda cujo nome faz estremecer certo público — no caso dela, qualquer adolescente de classe média iniciada no tema —, Evandro é autoridade no assunto. Qual? Bem, nenhum.
Ele não canta, não dança, não aparece na televisão e é um ilustre desconhecido para a maioria dos brasileiros. Mesmo assim, Evandro não dá dez passos no Shopping Metrô Itaquera nem no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, sem ser abordado por dezenas de meninos e meninas. São seus ardorosos fãs.
A notoriedade de blogueiras famosas como Lala vem de posts em que elas mostram como se vestem, se maquiam e o que acabaram de comprar. Já a de Evandro e de outros ídolos da internet na Zona Leste vem dos vídeos que eles postam na rede — piadinhas ingênuas e bizarrices como aspirar uma camisinha pelo nariz e retirá-la pela boca, raspar uma das sobrancelhas e tirar fotos fingindo-se de morto, com algodão no nariz.
Façanhas como essas lhe renderam 13 000 seguidores no Facebook, além de regalias como ter o crédito de seus celulares pré-pagos permanentemente recarregado por cortesia das admiradoras. Foi para conhecê-las pessoalmente — e dar a elas a oportunidade de pedir autógrafos e tirar fotos com ele — que Evandro e seus colegas de fama passaram a marcar em shoppings da região as reuniões que, até o ano passado, chegavam a juntar milhares de adolescentes. Foram esses “encontros de fãs” que deram origem aos hoje mal compreendidos, distorcidos e manipulados rolezinhos.
Eles continuam significando encontros-em-shoppings-marcados-pela internet, aos quais continuam comparecendo centenas e até milhares de adolescentes — a diferença é que esses adolescentes agora deram para correr em bandos pelos corredores, berrando refrões de funk ostentação, assustando lojistas, frequentadores e, ocasionalmente, cometendo furtos.
De tudo o que se falou na semana passada sobre os rolezinhos, o maior equívoco diz respeito à crença de que eles foram inventados por pobres jovens revoltados por sua exclusão da sociedade de consumo. Para começar, famosinhos e fãs de famosinhos — os participantes originais dos rolezinhos — são, para usar o termo tão em voga, a elite da periferia. O único problema que têm em relação ao consumo é não o praticarem tanto quanto gostariam. Conectados e obcecados por marcas e acessórios de grife, têm o hábito de gastar com eles boa parte do salário (o próprio ou o dos pais).
Evandro, por exemplo, gosta de comprar camisetas Abercrombie & Fitch e John John. O boné laranja que usava na última quinta-feira é o preferido entre os sete que possui — das marcas Puma, Mizuno e Nike. Ele compra as peças em outlets, que vendem coleções passadas e têm preços mais em conta. Mas poderia adquiri-las também em shoppings luxuosos como o JK Iguatemi e o Cidade Jardim. Evandro, no entanto, nunca pôs os pés nesses lugares — nem pretende fazê-lo.
Essa afirmação coincide com a de praticamente todos os adolescentes da periferia paulistana entrevistados por VEJA na semana passada. E contraria o que foi amplamente disseminado por neoespecialistas em rolezinho: os adolescentes da periferia, conscientizados do fosso de impossibilidades que os separa dos seus equivalentes mais ricos, estariam prontos a promover invasões nos shoppings chiques — manifestações simbólicas contra os templos de consumo dos quais estariam apartados. Sobre essa possibilidade, diz Evandro: “Por que eu iria ficar duas horas dentro de um ônibus para fazer compras num lugar em que tudo é mais caro e ninguém me conhece?”.
Em junho do ano passado, o até então obscuro Movimento Passe Livre conseguiu levar às ruas uma multidão de indignados que, em manifestações multitemáticas e apartidárias, se espalharam por todo o país. O que aconteceu em seguida todos se lembram.
O PT, por meio de seu presidente, Rui Falcão, tentou surrupiar para si o movimento, no que foi prontamente rechaçado pelos manifestantes. Em seguida, com intuito semelhante e abrindo alas para os famigerados e violentos black blocs, vieram os sem-teto, os sem-terra, os sem-causa. A partir daí, fim da história, os bem-intencionados acharam que era hora de voltar para casa.
O rolezinho segue caminho parecido. Na quinta-feira, sem nenhum pudor pelo oportunismo explícito, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto convocou o que chamou de “rolezão” diante de um shopping de São Paulo. O estabelecimento cerrou as portas antes que as coisas piorassem. Na quarta, foi a vez de a até agora silenciosa e irrelevante ministra da Igualdade Racial, Luiza Bairros (PT), tentar tirar sua casquinha.
“As manifestações são pacíficas. Os problemas são derivados da reação de pessoas brancas que frequentam esses lugares e se assustam com a presença dos jovens”. A ministra — certamente não por falta de tirocínio — desprezou em sua frase duas obviedades: que não é obrigatório ser branco para assustar-se diante da visão de centenas de jovens correndo e gritando pelos corredores de um shopping e que os shoppings que foram alvo dos rolezinhos não são frequentados apenas por brancos — subentenda-se na fala da ministra, ricos —, mas pelos próprios adolescentes da periferia, suas famílias e seus vizinhos.
No shopping de Itaquera, onde o fenômeno primeiro chamou atenção, apenas 8% dos frequentadores têm renda mensal acima de 780 reais — 33% são das classes C e D, nas quais o ganho não ultrapassa 1 120 reais por mês. Até agora, todos os rolezinhos que ocorreram em São Paulo tiveram como palco shoppings da periferia: os de Itaquera, Guarulhos, Interlagos e Campo Limpo. Fora desse eixo, o que houve foram tentativas malsucedidas de emular o fenômeno, organizadas pelos suspeitos de sempre — representantes de movimentos sociais em baixa e apropriadores profissionais de causas alheias.
A convocação para um rolezinho no Shopping JK, por exemplo, não partiu de nenhum adolescente da periferia, mas de um professor de piano, morador de um bairro paulistano de classe média e apoiador do ex-ministro e hoje presidiário José Dirceu (“Condenada foi a democracia brasileira”, postou ele no FB ao lado de uma foto do petista com o punho erguido). Da mesma forma, o chamado para uma invasão do Shopping Iguatemi de Brasília, marcada para o próximo dia 25, não teve o dedo de famosinhos da Zona Leste nem de seus fãs: está sendo organizado por um estudante da UnB que participou da invasão do Congresso em junho passado.
“Rolezinho é para ver os parça (parceiros), curtir, comer lanche e beijar na boca”, define Vinicius Andrade, 17 anos, morador do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Filho de uma assistente de cozinha, ele trabalha como assistente de dentista, diz que chega a ganhar até 1 000 reais por mês e usa mais da metade do salário para comprar as roupas de grife que ostenta, como a camiseta Tommy Hilfiger e o par de óculos Oakley — tudo legítimo, já que a regra de ouro da ostentação na periferia é que nada pode ser falsificado (“A gente vê de longe quando uma camiseta da Hollister é colada e não costurada”, diz a rolezeira Barbara Machado, 17 anos).
Na condição de famoso da internet (tem 83 000 seguidores), Vinicius já convocou dois bem-sucedidos rolês, ambos no Shopping Campo Limpo — o terceiro, marcado para acontecer no dia 21 de dezembro, foi abortado pela Polícia Militar. Além dos rolezinhos e dos passeios no shopping, ele e seus amigos são frequentadores dos “fluxos”, como são chamados os bailes funk organizados no meio da rua em torno de carrões com som potente e ambulantes que vendem bebidas.
Uísque e rum são o combustível para a dança, assim como maconha e lança-perfume, consumidos por uma parcela menor do público. Uma lei municipal, sancionada em 2013, proibiu carros estacionados em ruas públicas de emitir som alto, especialmente à noite — e a Polícia Militar passou a agir com bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a multidão. Na opinião de alguns jovens, isso ajudou a aumentar a popularidade dos rolezinhos.
Olhados como são, os adolescentes dos rolezinhos decepcionam os que tentam ajustá-los aos seus moldes ideológicos. Suas bandeiras são os bonés de marca, seu interesse é se divertir e, se querem manifestar alguma coisa com as badernas nos shoppings, é apenas o pior do comportamento adolescente: irritante, egoísta, inconsequente e que inclui, obrigatoriamente, o desafio a algum tipo de autoridade.
Os black blocs já estão espalhando nas redes que vão aderir aos rolezinhos. Movimentos sociais, como os capitaneados pela ministra Luiza Bairros, também não parecem querer largar o osso. Assim, diante da aterrissagem de oportunistas na cena e dos previsíveis excessos da polícia na hora de reprimir todo mundo, o resultado pode ser o que nem os rolezinhos até agora conseguiram produzir: tirar da classe média o espaço que ela enxerga como um oásis de tranquilidade e segurança e acabar com a diversão dos pobres de verdade, que nem bem chegaram à festa e já terão de levar a família para tomar sorvete em outro lugar.
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/rolezinho-eu-nao-quero-ir-no-seu-shopping